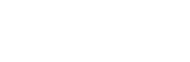Violência do Brasil, segurança pública e ampliação dos direitos democráticos (3ª parte)
Subsídio para a Campanha da Fraternidade – 2018
“Esse texto parte do pressuposto de que não se pode superar a violência a menos que a questão seja enfrentada por políticas públicas democraticamente discutidas e implementadas com vistas à garantia e ampliação dos direitos dos cidadãos. Entende-se que violência é um problema de política, mais do que de polícia.”
Ineficiência do aparato judicial
É notavelmente baixa a eficiência das agências públicas. Escassos são os resultados alcançados pelas polícias no cumprimento de seu papel de prevenir e investigar delitos e crimes. Do mesmo modo, o segmento judicial (Ministério Público e Poder Judiciário) tem pouco êxito ao punir os agressores.
De modo geral, o sistema judiciário se perde em meio à inesgotáveis idas e vindas, multiplicando as medidas protelatórias e burocráticas que cerceiam o acesso do cidadão e reforçam a sensação de impunidade.
É crescente a desconfiança nas instituições de justiça e nos agentes responsáveis pela lei e pela ordem públicas, os quais parecem estar perdendo efetividade no enfrentamento à violência.
A descrença na Justiça estimula a adoção de soluções privadas para conflitos de ordem social (como os linchamentos e as execuções sumárias) e exacerba sentimento de medo e da insegurança. Reclamando a punição que não vê concretizada, o cidadão supõe, paradoxalmente, que a violência só pode ser superada com o aumento de medidas de repressão. Em nome da lei e da ordem, deseja-se implantar um controle social indiferente à lei. Daí a multiplicação de manifestações, sobretudo nas redes sociais, que demonstram um desejo obsessivo de punição. Deseja-se tanto a punição que se abre mão do julgamento justo e se preconiza a aplicação de leis drásticas e até mesmo cruéis.
Além disso, questiona-se a parcialidade do aparato judicial e policial. O Núcleo de Estudos da Violência da USP tem feito referência aos tribunais de justiça penal que se mantiveram indiferentes a processos de controle repressivo e imposição de regras arbitrárias, pelas polícias, por exemplo, mesmo num contexto democrático. Suspeita-se que esses órgãos judiciários são mais atentos a crimes contra o patrimônio do que a crimes contra a vida, principalmente quando se trata de arbitrariedades contra as classes mais populares. Esse tipo de postura ratifica algumas proposições segundo as quais os órgãos do Estado estão mais preocupados com a defesa do patrimônio das elites do que com a garantia de direitos constitucionais às classes menos privilegiadas.
Alguns dados evidenciam as deficiências do Poder Judiciário e tornam explícito o fato de que esse Poder também contribui para a falta de controle da violência: o tempo médio entre o acontecimento de um homicídio e seu julgamento chega a 7,3 anos em cinco capitais do país. De todos os homicídios que acontecem no Brasil, apenas 8% chegam aos tribunais e destes, apenas 30% terminam em condenação — 70% são absolvidos ou arquivados. É como se a cada cem homicídios, apenas oito fossem a julgamento e somente 2,4 terminassem em condenação do infrator.
Uma questão que afeta profundamente o desenvolvimento econômico e social de um país é a capacidade do Judiciário de se apresentar como uma instância legítima na solução de conflitos que surgem no ambiente social, empresarial e econômico. Uma das formas de se medir essa legitimidade é através das motivações que levam os cidadãos a utilizar (ou não) o Judiciário e a confiar (ou não) nele, em termos de eficiência (celeridade), capacidade de resposta (competência), imparcialidade, honestidade e acesso (facilidade de uso e custos).
Não por acaso, o Índice de Confiança na Justiça, de 2016, aponta que somente 29% dos brasileiros afirmaram confiar no Poder Judiciário, número ligeiramente superior à confiança nas polícias (25%). Esses dados parecem manter estreita relação com uma certa percepção que a população formou sobre o aparato judicial no país, segundo a qual o próprio Estado é o primeiro a desrespeitar as leis: a polícia é violenta; os tribunais agem com preconceito de classe e raça e o sistema prisional é um campo de concentração de pobres.
Violência e direito à informação
Dificilmente um fato pode ser comunicado sem que as opiniões e prejulgamentos do emissor interfiram no que se quer dizer. Exatamente por isso, seria de esperar que os meios de comunicação de massa se especializassem em mostrar as discordâncias, as contradições, os diversos pontos de vista que permitem apreciar minimamente uma dada situação.
Ao contrário disso, em um ambiente em que todos os acontecimentos revelam sua face opinativa e todos os pontos de vista aparecem como passíveis de discordâncias a mídia corre um duplo risco. Por um lado, tem caído no espontaneísmo e no relativismo mais completo, em que qualquer opinião recebe o mesmo peso de outra, sem preocupação em exigir uma fundamentação razoável, que torne um ponto de vista minimamente aceitável. Por outro, arrisca-se a assumir como seu um dado ponto de vista, defendendo-o como se fosse a verdade última e definitiva.
A mídia constitui filtros poderosos por meio dos quais leitores, ouvintes ou expectadores formam sua visão do mundo. Entre os numerosos procedimentos de que os emissores se servem, está a formação de uma atitude mental dualista, que simplifica a complexa realidade social em um mundo divisível por dois. Como se houvesse a possibilidade de flanquear, de um lado, os bons e, de outro, os maus.
Dessa forma, os meios de comunicação ocultam intencionalmente as contradições sociais e impedem que os conflitos venham ao conhecimento geral. Numa espécie de visão idílica, a sociedade é representada como ordeira e o tecido social, sem fissuras. Manipulam-se informações, comunicando apenas aquilo que beneficia certos grupos políticos ou econômicos. Imparcialidade e isenção – de partida, inalcançáveis plenamente – deixaram de figurar como um ideal.
Criam-se concepções econômicas, sociais e políticas apresentadas de tal forma que vão se tornando uma espécie de doutrina. Qualquer pessoa que não corresponda a esse ideal comunicado, corre o risco de ser exposto à execração pública. Em algumas situações, as vozes dissonantes são completamente ignoradas. Em outras são ridicularizadas ou, ainda, apresentadas como desordeiros e contra os quais as forças policiais são instadas a usar toda sua força. Os movimentos sociais se destacam como frequentes vítimas desse tipo de ação da midiática.
As últimas décadas têm dado mostras do poder midiático para a criação de salvadores da pátria e de heróis nacionais. Com a mesma velocidade, pratica-se o assassínio de caráter e se destroem biografias. Em razão de tal poder, a mídia se constitui como uma das principais forças políticas da sociedade contemporânea e pode agir como catalizadora da violência no país.
A mídia contribui com a violência quando, direta ou indiretamente, estimula o ódio entre pessoas ou segmentos sociais que possuem posicionamentos políticos antagônicos. Cria-se a percepção artificial de que as pessoas do bem defendem um determinado projeto e, quem se opõe a isso, compõe os grupos do mal. Essa simplificação tem um potencial deletério, porque não contribui para que os diversos pontos de vista apresentem suas razões. Ao contrário, estimula-se a eliminação da presença incômoda do outro.
A violência resulta de decisões políticas
Os próprios partidos políticos – que deveriam ser, por excelência, espaços democráticos de defesa de uma determinada ideologia – são a demonstração mais explícita do atravessamento do público pelo privado. É comum que surjam lideranças que se comportam como donos das legendas. Autoritários e centralizadores, os partidos políticos transformam-se em domínio de um líder que, de forma autocrática, toma as decisões.
A mentalidade que não vê distinção entre público e privado também é responsável pela prática da corrupção. Comportando-se como proprietários da máquina pública, multiplicam-se os casos em que os políticos fazem do poder uma atividade a ser exercida em seu próprio proveito, e não um serviço a ser prestado à sociedade. Ao contrário, o cumprimento das obrigações do cargo que ocupam passa a ser visto como distribuição de favores a apaniguados. Coronelismo, clientelismo e tutela do eleitor são formas usuais – e, no Brasil, jamais superadas – de corrupção na política.
Para criar impedimentos práticos e simbólicos para o efetivo exercício da cidadania, acrescentam-se a esse quadro a insuficiente escolarização e a restrição de acesso a vários direitos sociais. Em tal cultura autoritária, o pobre é visto como incapaz de votar e, ainda mais, incapaz de participar das decisões quanto aos rumos do país.
Num círculo vicioso, quanto mais alijado das discussões políticas, mais alheio e indiferente se torna o cidadão. Configura-se um quadro de pouco interesse e mesmo de desprezo pela política. A exclusão social, os múltiplos impedimentos econômicos acabam por culminar no afastamento da vida pública e, consequentemente, na quase total incapacitação para reagir diante de desmandos e injustiças.
A sociabilidade violenta é uma construção. Faz-se de escolhas políticas que a cada dia se renovam. Cada escolha ou decisão política em favor da manutenção da atual (des)ordem das relações contribui para a perpetuação do modelo. Em razão disso, parece coerente afirmar que o possível enfrentamento da violência depende intrinsecamente das relações políticas.
São exemplo de medidas que pioram as relações sociais e que, potencialmente, contribuem para o aumento da violência as “reformas” que vêm sendo conduzidas no Brasil. Uma medida proibiu por vinte anos o aumento de gastos públicos com políticas sociais, mas não impôs limite aos ganhos astronômicos do mercado financeiro. A lei que permite a terceirização irrestrita da mão de obra e a reforma trabalhista abriram a possibilidade para a retirada de direitos e da proteção social ao trabalhador. A proposta de uma reforma da Previdência é conduzida de modo a cortar os benefícios dos mais pobres, enquanto os privilégios mais dispendiosos para os cofres públicos são assegurados e permanecem intocados.
Mudanças podem ser, eventualmente, necessárias. O processo atualmente em curso, no entanto, gera profunda insegurança para os mais pobres. Restringindo a ação do Estado aos estreitos limites dos interesses do mercado, a política tem se pervertido, na medida em que o cuidado das pessoas – sua função mais primordial – tem sido subordinada à lógica financista, indiferente à disseminação de toda sorte de problemas sociais que essa lógica provoca.
De acordo com tal modo de operação, o poder público vem se encolhendo quando se trata de garantir direitos que beneficiem os mais pobres. Tal retração do Estado abre o horizonte para a iniciativa privada que pode ter novos campos de atuação em saúde, educação, segurança e em outras áreas recém abertas à exploração comercial. O problema é que a população de mais baixa renda encontra portas fechadas que lhe impedem o acesso àquilo que por direito lhe pertence.
Contraditoriamente, as políticas econômicas têm ganhado autonomia frente ao desenvolvimento social. Em consequência disso, a exclusão e a violência aumentam, já que são fortemente associadas à inexistência ou insuficiência de políticas públicas voltadas ao atendimento das reais necessidades da população.
Por outro lado, não é de se estranhar que políticos eleitos com a ajuda financeira de empresas se importem muito mais em representar os interesses de seus financiadores do que, propriamente, em tratar daquilo que beneficia os cidadãos em geral. Por isso, não faz muito tempo, os manifestantes, nas ruas, acusavam os políticos de não os representarem.
A insatisfação das ruas com essa distância tem se transformado, por vezes, numa desconfiança contra os políticos, contra os partidos e contra a própria política.
Nesse ambiente, detestar a política e abster-se de participar aparece, com frequência, como uma pretensa alternativa. Numa flagrante contradição, a defesa do ódio à política tem sido praticada, com apoio e incentivo da mídia, nas últimas eleições, por candidatos e pessoas que pretendem disputar cargos políticos ou que deles querem se beneficiar.
Quem faz esse tipo de proposta raramente consegue explicar como é que se poderiam organizar as relações de poder no espaço público se partidos e sem pessoas que se dediquem a representar os demais cidadãos.
Contra a universalização dos direitos e em favor dos privilégios
Acostumada a uma cultura de privilégios e favorecimentos – nos raros momentos históricos em que houve aumento da participação social e a expansão de direitos dos cidadãos –, parte da sociedade brasileira tende a se ressentir e a reivindicar o emprego de critérios meritocráticos. Aquilo que é reclamado, contudo, revela-se como uma perversão, um arremedo da meritocracia. Numa organização social com reduzidíssima mobilidade entre classes, pode restar pouquíssimo espaço para verdadeiras conquistas baseadas em mérito pessoal. A condição de existência do mérito pessoal é a igualdade desde o ponto de partida – uma condição de igualdade que a sociedade brasileira não costuma praticar.
No mundo contemporâneo, a cultura do privilégio cobre-se com as vestes do consumo de luxo. Os produtos consumidos demarcam sinais de pertença a uma determinada classe e, com isso, mantém-se à distância os que são – como se costuma dizer – os “consumidores falhos”. Com essa expressão designam-se aqueles que são excluídos porque não conseguem sustentar os hábitos caros de consumo, requeridos para se conquistar o “direito” de pertencer.
A valorização dos sinais de poder e de prestígio parece explicar a importância que ainda se dá aos títulos honoríficos. Ser chamado de “doutor”, “excelência” ou “meritíssimo” parece ser ainda muito valorizado, mesmo fora dos contextos que, talvez, pudessem conferir alguma legitimidade ao seu uso. Associado a essa atitude, persiste um mal disfarçado preconceito contra as atividades mais simples, incapazes que seriam estas últimas de oferecer os almejados sinais de distinção.
Prevalece, então, a atitude de menosprezo que trata o excluído de tal ordem estabelecida como um desclassificado, um inepto ou menos capaz. Certos segmentos sociais passam a ter, então, uma cidadania de segunda categoria. Em virtude dessa forma de pensamento, a mulher segue recebendo salários menores do que o homem e os negros, menos do que os brancos. Dentre as crianças e adolescentes, de zero a 14 anos, mais de 17 milhões encontravam-se em situação de pobreza (40,2%), no ano de 2015, em famílias com uma renda inferior a meio salário mínimo por pessoa.
De acordo com o ponto de vista aqui descrito, é comum que desempregados, subempregados, pessoas sem terra ou sem teto sejam culpabilizados e vistos como fracassados. A exclusão é, então, atribuída à “falta de qualificação”, quando não, explicitamente, à incompetência dos próprios excluídos.
Parece instalar-se uma hierarquia em que os mais pobres contam menos. Diariamente a violência assola comunidades e favelas, mas as notícias costumam gerar comoção apenas quando a violência vitima as classes incluídas.
A violência que procede da desigualdade econômica
Contra todos os princípios de civilidade, as relações econômicas dominantes neste século elegem, como paradigma de ação, a lei do mais forte ao invés da prevalência do direito e da justiça. Não pode haver meritocracia quando grande parte da população já está, por princípio, excluída do jogo. A expectativa de que a autonomia dos mercados e a livre especulação financeira venham a produzir o crescimento econômico, equidade e inclusão parece ilusória, na medida em que não se vê, em toda a história, qualquer indicativo de que ela possa se concretizar.
Ao contrário, quanto mais se aprofundam os mecanismos de acumulação e de consumo, tanto mais as promessas de felicidade vão se concretizando apenas para um pequeno grupo e ampliando a exclusão da maioria. Parece difícil aceitar a ideia de que o modelo vigente pode produzir benefícios para todos quando se constata que, atualmente, 62 pessoas concentram o mesmo dinheiro que a metade mais pobre da humanidade. Outro número dá conta de que apenas 1% da humanidade possui a mesma riqueza que os restantes 99%.
No caso brasileiro, a desigualdade cria ainda o desequilíbrio entre as regiões. Supostamente reconhecido como um país de contrastes que geram pluralidade econômica e cultural, essa diversidade frequentemente se converte em desigualdade entre as regiões. Criam-se modelos mentais que concebem uma região como avançada e moderna ao passo que se atribuem a outras o atraso e o subdesenvolvimento. Essa discrepância resulta da desigualdade de investimento e da inexistência de políticas públicas específicas para garantir o desenvolvimento tecnológico igualitário do território.
Há décadas, o episcopado nordestino tem chamado a atenção para o fato de que as diferenças entre o Centro-sul e o Nordeste se devem ao fato de que faltam políticas públicas específicas para essa região. Algo semelhante pode ser dito a respeito das outras regiões que, ao longo de décadas, não ocuparam o centro das preocupações dos governos.
Superação da violência por uma cultura de paz
Tema tão contemporâneo, a paz comporta diferentes entendimentos e muitos são os pensadores que a ele se têm dedicado; há acepções diversas, desde aquelas que se referem a um estado interior do sujeito ausente de conflito consigo mesmo até o entendimento de uma paz externa, ou seja, uma situação em que não há conflito e violência entre indivíduos, grupos e coletivos humanos. Neste texto, trata-se de pensar a paz externa, ainda que ambas se vinculem.
Na busca pela paz, muito frequentemente, há uma ênfase ao combate à violência direta que, se eliminada, promoveria a paz. Disso resulta uma concepção entendida por alguns estudiosos como uma paz negativa (que, per si, pode inclusive ocultar injustiças que, muitas vezes, geram novos conflitos). Destaca-se aqui, portanto, a importância do enfrentamento não somente da violência direta, mas das violências estruturais e culturais, em busca de uma paz positiva e sustentável.
Ainda que, historicamente, se observe em momentos e lugares a prevalência de um ou outro estado de coisas, situações de violência e de paz coexistem nas diversas sociedades, nas suas várias formas de manifestação. Promover a paz é, pois, um desafio permanente que deve ser continuamente enfrentado. Trata-se não somente de um problema filosófico, mas também social e político.
Por certo, a paz não será alcançada pela mera obediência e submissão a normas, pelo medo das sanções a determinados comportamentos coletivamente rechaçados, ou pela segregação de pessoas e grupos. Há que construir uma sociedade que, pautada na justiça, deseje a paz.
Assim, reconhecendo que a paz não se caracteriza apenas pela ausência de conflito — condição inerente à vida humana em sociedade — a concepção de “cultura de paz” está aqui entendida no sentido do “cultivo da paz”, portanto, não como algo dado, mas resultado de ações e processos multidimensionais, individuais e coletivos, claramente intencionados a produzir modos de ser e de viver que tenham a paz como valor coletivo e horizonte a ser alcançado. Em outras palavras, trata-se de construir estilos de vida voltados para a promoção da paz.
A Organização das Nações Unidas (ONU) postula que Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados:
a) No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não-violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação;
b) No pleno respeito aos princípios de soberania, integridade territorial e independência política dos Estados e de não ingerência nos assuntos que são, essencialmente, de jurisdição interna dos Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional;
c) No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
d) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos;
e) Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e proteção do meio-ambiente para as gerações presente e futuras;
f) No respeito e promoção do direito ao desenvolvimento;
g) No respeito e fomento à igualdade de direitos e oportunidades de mulheres e homens;
h) No respeito e fomento ao direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião e informação;
i) Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade e entre as nações; e animados por uma atmosfera nacional e internacional que favoreça a paz.
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração e Programa de Ação sobre um Cultura de Paz. 107a sessão plenária. 13 set. 1999.)
O alcance de um objetivo tão complexo exige que Estado, sociedade civil, organizações públicas e privadas, grupos, comunidades e indivíduos mobilizem forças e recursos de múltiplas ordens, para alcançar ao longo do tempo a transformação da realidade.
Tem-se, portanto, que o enfrentamento de diferentes formas de violência requer o agenciamento de estratégias distintas, porém concertadas. E o entendimento de que a paz possível e desejada deve andar pari passu com a disseminação e concretização de ações que resultem na abolição de todas as situações que a impedem.
Assim sendo, a construção da paz submete-se a diversos condicionantes, somente se podendo realizar na ação de muitos atores sociais — individuais e coletivos—, via micro e macro práticas democráticas que promovam o fortalecimento do Estado de Direito, a participação e o controle sociais.
Portanto, o desenvolvimento de uma cultura de paz implica a ampla ação institucional, sobretudo no que tange ao Estado — e tem-se aí o papel importantíssimo dos governos e o envolvimento das instituições jurídicas — e, paralela e igualmente importante, a ação da sociedade civil, dos grupos e dos indivíduos, de modo a que instaure uma radical mudança nas relações sociais e políticas.
Em outras palavras, a construção de uma Cultura de Paz está intimamente relacionada à promoção da democracia e ao fortalecimento das instituições democráticas; ao desenvolvimento econômico e social sustentável, com garantia da participação de todos; à erradicação da pobreza e das desigualdades; à eliminação de toda forma de discriminação; ao respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; à promoção da tolerância e da solidariedade.
Entre os países que têm alcançado maior avanço, as principais estratégias para promoção da paz contemplam programas e ações governamentais e não governamentais, locais, regionais e nacionais, sobretudo no âmbito da educação, do cuidado com as crianças e com os jovens, da afirmação dos direitos humanos, da igualdade entre gêneros, da participação democrática, da comunicação participativa, do desarmamento e da segurança nacional e internacional.
(Os grifos são nossos.)
Créditos
A análise publicada em Contextus não representa a opinião da PUC Minas ou da Arquidiocese de Belo Horizonte. Sua publicação, sob responsabilidade exclusiva do Nesp, obedece ao propósito de estimular a reflexão sobre a conjuntura política e outros aspectos de interesse social.
Núcleo de Estudos Sociopolíticos
Avenida Dom José Gaspar, 500 – Prédio 04 – Sala 205
30.535-901 – Belo Horizonte – MG
Site: http://www.nesp.pucminas.br | E-mail: nesp@pucminas.br | Telefone: 3319-4978
Grupo Gestor
Representantes da PUC:
Adriana Maria Brandão Penzim
Claudemir Francisco Alves
Robson Sávio Reis Souza (Coord.)
Representantes da Arquidiocese de Belo Horizonte:
Frederico Santana Rick – VEASP
José Zanetti Gonçalves – RENSE
Conselho Editorial
Adriana Maria Brandão Penzim
Claudemir Francisco Alves
Robson Sávio Reis Souza
Redação final
Claudemir Francisco Alves
Fonte: