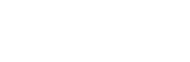Violência do Brasil, segurança pública e ampliação dos direitos democráticos (2ª parte)
A violência cultural
Ao se empregar a expressão “violência cultural” sugere-se o cultivo cotidiano e a perpetuação histórica de modos de socialização pautados pela violência. A cultura não é entendida, portanto, nem como um defeito de origem e nem como uma espécie de destino inevitável de uma sociedade. Ao contrário, está ligada ao fazer cotidiano, às ações concretas das instituições sociais e às decisões políticas que diariamente vão sendo tomadas para ratificar um dado modo de interpretar e organizar a própria sociedade.
Essa iteração acaba por constituir um contexto de interpretação dos próprios fatos do cotidiano, em especial aqueles da violência direta e da violência estrutural. Certas ações violentas passam a ser vistas como legítimas e dificilmente se consegue percebê-las em sua verdadeira face. Dessa forma, a violência contra a mulher, por exemplo, aparece neutralizada como se não chegasse a ser uma agressão, e frequentemente pretende se passar por um inocente jogo social na relação entre gêneros.
A violência cultural se concretiza na naturalização de determinadas condutas. Ciúmes, desavença entre vizinhos, desentendimento no trânsito e tantas outras formas de conflito passam a ser vistas como reações normais e inevitáveis. Por terem sido naturalizadas, confundem-se com reações espontâneas e previsíveis frente a uma situação conflitiva.
Esse tipo de violência não é percebido em sua gravidade e por vezes é tratado como um mal menor e mais aceitável, comparado ao tráfico de drogas e outras práticas criminosas organizadas.
O processo de naturalização encaminha para a total indiferença frente aos fatos. Os números da violência no Brasil revelam uma calamidade social. Raramente, porém, o expectador ultrapassa o nível de uma leve indignação diante dos dados.
A sociedade mantém-se complacente, como se a reação violenta às provocações do cotidiano fosse um fato natural e nada houvesse a ser feito para evitá-lo.
Isso que ocorre no nível individual e coletivo se manifesta como uma espécie de anestesia por parte dos governos, que não se sentem compelidos a elaborar políticas públicas capazes de reverter a tragédia em andamento.
Outro mecanismo cultural que se observa frequentemente é o da culpabilização da vítima. Assim, por exemplo, o crime cometido “para lavar a honra” surge como algo trivial e corriqueiro, quase “normal”.
Nesse tipo de raciocínio, o jovem, o negro, a mulher sofrem violência porque fizeram algo por merecer. O estupro ocorreria por culpa da mulher que não se vestiu adequadamente. O jovem negro e morador da periferia seria o alvo preferencial da violência policial por ser marginal ou um drogado. Nessa perspectiva, a violência seria vista como uma forma de manter as pessoas “de bem” no “bom caminho”.
Dificilmente as pessoas que empregam esses argumentos se dão conta de que estão sendo violentas. Tal maneira de interpretar uma determinada condição constitui um código de valores a partir do qual condutas individuais e sociais dos outros são avaliadas. Na vida cotidiana, raramente esse contexto prévio de interpretação é analisado criticamente, embora seja constantemente usado como parâmetro de validação de certas condutas.
É nas ações concretas e nos valores sustentados que a cultura se realiza e se atualiza. Algo pode ser considerado cultural quando é sistematicamente avivado e reavivado nas ações dos indivíduos, assim como no fazer e no fazer-se das instituições de uma sociedade. Com isso, o termo cultura é remetido ao aspecto político das relações sociais.
Nesse sentido, não parece razoável falar em uma cultura violenta como se ela fosse essencialmente violenta, isto é, existisse com o fim explícito de gerar violência. É possível, porém, dizer que há cultura da violência no sentido em que nela se produzem e se reproduzem mecanismos que restringem direitos ao invés de se criarem as condições para que os direitos sejam usufruídos por todas as pessoas. Há cultura da violência quando, em uma sociedade, vão sendo tomadas, reiteradamente ao longo do tempo, decisões que inviabilizam a construção da justiça e da equidade e em virtude das quais a paz é continuamente impedida de nascer e de fincar raízes.
Formas de pensamento e de linguagem são meios de perpetuação da violência cultural. Do mesmo modo, elas podem ser legitimadas por crenças religiosas e por convicções morais. Quando se supõe que o bem e o mal existem independentemente das definições que um determinado grupo social faz para escolher qual conduta deverá ser considerada “certa” e qual será tratada como “errada”, retira-se a moral do campo opinável das relações humanas sociais e de poder.
Nesse caso, condutas ou identidades que não se conformam aos valores dominantes no grupo social são tratadas como modos de ser inferior. Assim, aparecem os mais diversos argumentos para tratar como “naturalmente” inferiores a mulher, os jovens, os idosos, os trabalhadores, os migrantes, os negros, os índios, as pessoas com orientações sexuais diferentes (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais…) entre tantas outras marcas de di- versidade que passam a ser menosprezados.
Outro aspecto da violência cultural é o império de uma igualdade apenas formal dos indivíduos perante a lei. Para os poderosos a submissão à lei não é sempre exigível, mas uma questão de conveniência. Por isso se diz que há leis “que pegam” e leis que “não pegam”. Para aqueles que gozam de posição social mais alta a obediência à lei se mostra opinável. Para os mais pobres e menos amparados por relações pessoais protetoras, frequentemente a lei se torna uma forma de repressão, contenção e até mesmo exclusão social.
Para dar cobertura a essa desigualdade na forma como uma norma afeta os cidadãos, as leis, por vezes, são elaboradas de forma abstrata e incompreensível, permitindo interpretações escusas, ou o cumprimento da mera materialidade da lei, mediante o descumprimento do espírito da lei. Daí decorre um aparato judiciário seletivo, moroso, ineficiente e ineficaz.
A formação do pensamento único e a violência contra os diferentes
Desde o período colonial a sociedade brasileira foi se formando com base na suposição de que existem pessoas melhores e pessoas piores. A forma de pensar segundo a qual o colonizador branco era considerado superior aos índios e aos negros foi adquirindo novas conformações à medida que a sociedade foi se reestruturando social e politicamente para responder a novos desafios e conjunturas. Jamais foi superada, porém, a velha concepção e, mesmo séculos depois, ainda persistem os sinais de distinção que relegam a mais ampla parcela da população a uma cidadania de pior categoria.
No Brasil, conseguiu-se estabelecer, no máximo, uma igualdade formal entre os indivíduos. Ao invés do reconhecimento dos direitos universais dos cidadãos, formou-se uma sociedade altamente hierarquizada, baseada em privilégios. Tal distinção de pessoas se engendra e se fortalece cotidianamente por meio das práticas e do discurso operado pelas instituições sociais. Essa desigualdade – legitimada e acobertada – gera relações sociais violentas.
Pouco se questiona esse quadro. As vozes que, por vezes, se levantam contra tamanha desigualdade frequentemente são desmerecidas, discriminadas e tratadas com desprezo. Quando recusam o retorno ao silêncio e insistem em denunciar tal conformação social, são frequentemente caladas por meio da força.
Atuar em favor da igualdade de direitos, no Brasil, é uma atividade de risco. Todos os anos as organizações que defendem o meio ambiente; as que lutam pela propriedade equitativa das terras e das águas; as defensoras dos direitos humanos, dentre outras, contam às dezenas o morticínio e a agressão de lideranças e militantes populares.
Enquanto isso, vem se constatando, nos últimos anos, um acirramento dos conflitos no campo com a proposição, no Congresso Nacional, de projetos de leis que visam à redução de direitos dos trabalhadores rurais mais pobres. Encontram-se em andamento medidas que constituem uma ameaça aberta aos direitos trabalhistas, com restrição do acesso desses trabalhadores à previdência e à aposentadoria rural.
Além disso, várias políticas públicas voltadas especificamente para os agricultores familiares vêm sendo desmanteladas. Ministérios, autarquias e outras estruturas de Estado que têm por finalidade a proteção dos agricultores familiares, bem como de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais têm sido extintos ou veem seus recursos orçamentários minguarem. A paralisia na destinação de terras improdutivas para fins de reforma agrária; a interposição de obstáculos para dificultar e até impedir a demarcação de terras destinadas aos povos tradicionais; as táticas para impedir as denúncias contra a redução do trabalho a condições análogas à escravidão. Essas são medidas em andamento que agravam um setor social já caracterizado pela violência.
Como sempre se viu, ao longo dos séculos, esses povos ainda estão sendo violentamente expulsos de suas terras. Privilegia-se, ao contrário, o agronegócio, deixando desprotegida a agricultura familiar e camponesa, que depende do compartilhamento equânime dos recursos da terra e da água.
As já restritas experiências de reforma agrária estão sendo ameaçadas por uma nova forma de gestão dos assentamentos. A oferta imediata do título de propriedade da terra para o assentado é uma estratégia arriscada, na medida que esconde um duplo movimento. O primeiro, diz respeito ao fato de que, com essa medida, o Estado se desobriga de garantir a assistência técnica, a infraestrutura e outros subsídios necessários para que o assentado adquira as condições materiais e tecnológicas de produzir em sua terra e conseguir escoar sua produção. O segundo movimento é a facilitação da comercialização da terra. Há um grande risco de que as terras, vendidas, voltem a se concentrar nas mãos de poucos. Tal proposta de gestão dos assentamentos pode levar ao desvirtuamento da reforma agrária por meio da privatização das áreas reformadas.
Também tem sido objeto de uma intensa disputa a destinação da água. Existem duas propostas antagônicas quanto à forma de aproveitamento e gestão dos recursos hídricos. De um lado, existe a lógica de mercado que defende a apropriação territorializada e monopolista da água, vista apenas como um recurso para a atividade econômica. Essa forma de uso intensivo da água é incompatível com a demanda daqueles que dela se servem para sua subsistência. Somente em 2016, em todo o território nacional, cerca de 45 mil famílias estiveram expostas a semelhantes situações conflituosas.
É em face desse cenário que se constata o recrudescimento da violência no campo com aumento exponencial de mortes e prevalência da impunidade.
Outro fenômeno típico dos últimos anos é a criminalização dos movimentos sociais. Isso tem significado, por vezes, a aprovação de medidas persecutórias, como a lei que permite enquadrar legítimas formas de manifestação política como se fossem atos terroristas. O uso das Forças Armadas ou de tropas de Polícias Militares contra pessoas que participam em atos políticos democráticos se repetiu incontáveis vezes ao longo das últimas décadas.
Em tempos mais recentes, porém, a frequência com que isso vem ocorrendo já chama a atenção até mesmo fora do país. Já o Estado brasileiro pouco se empenha para que haja efetiva apuração dos casos de violência contra lideranças indígenas, quilombolas, ambientalistas e tantos outros militantes de movimentos populares.
Enquanto o uso extremo da força substitui a coexistência negociada, vigora o discurso feito para justificar tamanha violência supondo que ela ocorre como consequência natural e óbvia, merecida por quem não age de acordo com as regras de boa convivência social, na qual cada um deveria reconhecer o lugar que “devidamente” lhe cabe. Em tal narrativa, pessoas que não se submetem ao código de valores dominante são tratadas como portadoras de uma moral falha ou uma deficiência intelectual que – supostamente – faz com que mereçam ser duramente combatidas.
Na prática, o líder de trabalhadores rurais que reinvindica uma apropriação mais equitativa das terras e das águas é tratado como se fosse, ele próprio, a causa do problema, já que recusa submeter-se à lógica que permite que as riquezas fiquem nas mãos de uma minoria. De modo semelhante, o índio que não aceita ser expropriado de sua terra e de sua cultura é apresentado como agarrado aos valores do passado e contrário à modernidade.
A culpa é da vítima?
Esses e outros argumentos obedecem a uma mesma lógica que naturaliza as desigualdades. Trata-se de um processo violento porque atribui a culpa ao sujeito que, na verdade, é a vítima da opressão.
Inverte-se, assim, a relação de causa e efeito: a opressão (verdadeira causa da problema) é apresentada como se fosse uma natural e óbvia consequência do modo de ser ou de agir da vítima.
Com o tempo, tal violência, naturalizada, vai se tornando invísivel, isto é, deixa de ser percebida como violência nas relações sociais cotidianas.
Para justificar o uso da força, ao invés da conversação e do enfrentamento objetivo do problema, criam-se rótulos para descrever as pessoas vistas como inimigas: desordeiras, vândalos, comunistas… Assim, quando alguém transgride a ordem estabelecida e se ergue contra o sistema abertamente desigual, invoca-se o rigor da lei.
No cotidiano, porém, ao invés da imparcialidade da lei, são as relações pessoais e o compadrio que ditam as normas. Fazer de recursos públicos um meio de se obter benefícios privados parece algo tão normal que por vezes já nem é percebido como um desvio.
Tampouco soa como uma perversão do sistema o fato de que, para se alcançar a prestação de um serviço público, frequentemente se torna necessário conhecer uma pessoa influente.
A influência, em tal caso, é a capacidade de fazer convergir para fins individuais e privatistas bens e serviços que deveriam ser distrituidos com critérios objetivos e em total respeito às leis.
Dissolvem-se facilmente os limites entre os espaços público e privado, contrariando um dos princípios mais básicos de um Estado democrático.
A guerra às drogas
A política de repressão às drogas, como fim em si mesma, tem causado danos e riscos à sociedade e se mostrou ineficaz em cumprir seu papel de controlar o uso de substâncias ilícitas, que a cada ano estão mais acessíveis em todo o mundo. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, 250 milhões de pessoas usavam drogas em todo o mundo, em 2015.
Desde quando o termo “guerra às drogas” foi explicitamente difundido, no início dos anos 1970, nenhuma outra política pública conseguiu segregar tanto as populações marginalizadas. Implementaram-se ações de segurança pública e justiça criminal seletivas, sem incidir efetivamente na diminuição do uso, nem nos crimes conexos ao tráfico. A ação seletiva das polícias e da justiça no trato com as drogas denuncia uma política de repressão aos entorpecentes ineficaz e injusta.
Afinal, essa falsa guerra não envolve substâncias psicoativas consumidas por grupos de elite, como calmantes e álcool e, mesmo em relação às substâncias psicoativas ilícitas – que são usadas pelos segmentos sociais mais abastados – tal política não produz resultados dado que os grupos sociais financeiramente bem posicionados conseguem facilmente as substâncias ilícitas e contam, geralmente, com a complacência e conivência de setores do sistema de justiça criminal.
Ademais, o debate sobre as drogas tem se centrado em questões de cunho moralista e preconceituoso. Enquanto o álcool – substância que causa mais problemas e custos ao sistema de saúde pública – é aceito e legalizado, os usuários de outras drogas são estigmatizados e punidos. Por ano, as drogas proibidas em convenções da ONU matam cerca de 250 mil pessoas. Porém, o uso abusivo do álcool resulta, anualmente, em 2,25 milhões de óbitos. Quanto ao tabaco, mata 5,1 milhões anualmente. Isso, sem contabilizar os altíssimos custos para o sistema de saúde público relativos ao tratamento de usuários e dependentes de álcool e tabaco.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atualmente, são quase 650 mil o número de pessoas encarceradas, das quais mais de 240 mil ainda não receberam condenação da Justiça. De acordo com levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), pelo menos 27% de toda essa população está presa em razão do tráfico de drogas. São mais de 170 mil pessoas aumentando a superlotação de um sistema prisional onde impera a violação de direitos e que não favorece a reinserção social do preso.
A falta de controle da produção e da qualidade das drogas, a criação de um mercado ilegal sem fiscalização, o excesso de investimentos em armas e a violência contra os jovens da periferia são fatores que prejudicam gravemente a saúde pública. Em outras palavras, a guerra contra as drogas esconde a omissão do Estado que, incapaz de produzir políticas específicas sobre o tema, escolhe o caminho menos árduo de criminalizar uma parcela da população.
Polícia e violência
Decorridas três décadas desde a implantação da Constituição Federal e a consolidação do regime democrático, o Brasil segue convivendo com um modelo de organização policial com fortes traços de autoritarismo. Ao invés de pautar-se pela defesa do cidadão e pela garantia do pleno exercício de seus direitos, ainda persistem crises internas às corporações policiais que impedem a composição de instituições comprometidas com a defesa do cidadão.
Abuso de autoridade, violações dos direitos humanos e desrespeito à cidadania fazem com que o medo de sofrer violência ou alguma injustiça provocada pela própria polícia constitui um dos fatores responsáveis pelo aumento da insegurança e do medo, em particular, nas grandes metrópoles.
Prevalece, nas políticas de segurança pública no Brasil, uma forma de se conceber a atuação policial que, ao combater o crime, combate também o cidadão. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança, grande parte da população teme ser vítima de violência da Polícia Militar (59%) ou da Polícia Civil (53%). A maioria dos cidadãos (70%) acham que há exagero no emprego de violência por policiais.
Incapaz de perceber a complexidade do problema, uma parte da população acredita, contraditoriamente, que a criminalidade aumenta em razão da insuficiência de leis ou da falta de punições efetivas. Não obstante haja pouca eficiência na ação das instituições responsáveis pela apuração e pelo julgamento, não há indicativos de um abrandamento das sanções penais no Brasil. Ao contrário, diversos estudos consideram ter havido um recrudescimento no controle estatal sobre a criminalidade, assim como se destaca a alta letalidade da ação policial.
A arbitrariedade e a violência policiais, que afrontam direitos básicos como a privacidade ou a exigência do devido processo legal antes de qualquer condenação, têm sido incautamente aceitas por certos segmentos da população. Ouve-se frequentemente esse tipo de discurso no qual é naturalizada e aceita a ação policial violenta aplicada contra determinados grupos sociais, não importando se aplicada de forma ilegal ou ilegítima. Dessa forma, observa-se que a vítima mais comum da violência policial tem sido o jovem, o negro, o pobre e, em particular, o morador de favelas e dos bairros mais pobres.
Como parte desse quadro, aumentou sensivelmente o encarceramento como política de segurança no país. Nos últimos catorze anos, houve um acréscimo de 267,32% no número dos presos. O Brasil é o terceiro no ranking dos países com maior população prisional. Existem 342 pessoas presas para cada cem mil habitantes, superando em muito a média mundial.
Junto com o número de aprisionados, cresce também a indústria associada à carceragem. Uma enorme quantidade de serviços é requerida para manutenção desse sistema. Há alguns anos vêm emergindo propostas de transferência desse aparato para a iniciativa privada, transformando num negócio aquilo que deveria ser um trabalho de cuidado. A privatização da segurança pública é, aliás, uma corrente composta por muitos elos, envolvendo a venda de seguros, o aparato da segurança privada, a mercantilização da advocacia, a polícia repressiva, o Judiciário penalizante e muitas outras partes.
A esse sistema tem sido comum designar como um “Estado de controle social penal”. Em tal modelo, as prisões e o funcionamento das polícias não são submetidos ao objetivo maior de um controle social cidadão, cujo propósito seria a reconstrução de uma sociabilidade pautada na solidariedade social.
Muito ao contrário, distante das práticas de recuperação e reintegração da pessoa apenada à sociedade, a precariedade das instalações e a superlotação são agravadas pela prática de tortura e pelos maus tratos praticados por policiais e carcereiros.
São muitos os dilemas a serem superados para se chegar a um modelo policial comprometido com o respeito à dignidade humana e intencionado à adoção de práticas emancipatórias. As organizações policiais são pouco permeáveis à participação social. Ocupadas em sanar conflitos internos, frequentemente corporativos, têm se mostrado refratárias a efetivas mudanças. Prevalece entre os agentes públicos da segurança uma visão autoritária e avessa ao reconhecimento do outro.
Além do mais, os governos democráticos, pós-Constituição de 1988, tanto no plano federal como nos estados, nunca assumiram o protagonismo de uma reforma policial. Muito pelo contrário, geralmente se acomodam ao modelo vigente e dele se utilizam.
Tampouco se cultiva na sociedade brasileira o interesse pela solução desses problemas. Impera a visão que atribui à polícia o papel da repressão e da punição. Em razão disso, não tem havido, por parte da população, nem acompanhamento e nem exigência de que os indicadores de desempenho policiais sejam compatíveis com ações preventivas.
Pelo contrário, difunde-se uma ideia de justiça revanchista que deseja manter à distância os presidiários e seus problemas. Nessa concepção vindicativa, a desgraça em que vivem os presos no sistema carcerário brasileiro é tratada como parte do próprio castigo. O autointitulado “cidadão de bem” se mantém alheio a essa miséria humana.
Enquanto isso, a violência policial no Brasil continua recebendo destaque no informe anual da Anistia Internacional e de outras organizações de defesa dos direitos humanos. O envolvimento de policiais em chacinas, os “autos de resistência” (homicídios cometidos por policiais que alegam legítima defesa e ficam sem investigação), casos de tortura seguidos de morte, fraude processual, ocultação de cadáver estão entre os crimes atribuídos a policiais. A maioria dos casos de violência policial permanece sem apuração e os acusados ficam sem julgamento.
(Os grifos são nossos.)
Créditos
A análise publicada em Contextus não representa a opinião da PUC Minas ou da Arquidiocese de Belo Horizonte. Sua publicação, sob responsabilidade exclusiva do Nesp, obedece ao propósito de estimular a reflexão sobre a conjuntura política e outros aspectos de interesse social.
Núcleo de Estudos Sociopolíticos
Avenida Dom José Gaspar, 500 – Prédio 04 – Sala 205
30.535-901 – Belo Horizonte – MG
Site: http://www.nesp.pucminas.br | E-mail: nesp@pucminas.br | Telefone: 3319-4978
Grupo Gestor
Representantes da PUC:
Adriana Maria Brandão Penzim
Claudemir Francisco Alves
Robson Sávio Reis Souza (Coord.)
Representantes da Arquidiocese de Belo Horizonte:
Frederico Santana Rick – VEASP
José Zanetti Gonçalves – RENSE
Conselho Editorial
Adriana Maria Brandão Penzim
Claudemir Francisco Alves
Robson Sávio Reis Souza
Redação final
Claudemir Francisco Alves
Fonte: