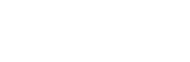Violência do Brasil, segurança pública e ampliação dos direitos democráticos (1ª parte)
Apresentação
Em meados de 2017, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos (Nesp) produziu um texto no qual se propunha uma reflexão sobre a violência no Brasil. Atendendo a uma solicitação apresentada pelo reitor da PUC Minas e bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, esse material deveria servir como sub- sídio para a elaboração do texto-base da Campanha da Fraternidade de 2018, cujo tema é “fraternidade e superação da violência”.
O Nesp assumiu, então, a tarefa de preparar um panorama da questão da violência no país. Tal levantamento foi parcialmente utilizado na seção “VER”, do texto-base produzido pela CNBB. Outra parte do material gerado naquele estudo permanecia inédita. Considerando a oportunidade de se aprofundar o tema em razão da Campanha da Fraternidade em andamento, o Nesp tem acolhido insistentes pedidos para que o conteúdo do documento seja integralmente publicado.
Em razão disso, nesta edição de Contextus foram reorganizadas novas seções daquele estudo. Pretende-se reunir aqui alguns elementos que permitem compreender as situações de violência direta experimentadas cotidianamente pelos cidadãos brasileiros em suas conexões com a estrutura social, econômica e política do país.
Essa abordagem – que compreende a violência direta como intrincadamente ligada às práticas de violência estruturais e culturais – não constitui uma novidade. Aliás, trata-se de uma perspectiva já bastante comum nos estudos sociológicos e políticos sobre esse tema.
Ao adotar aqui essa forma de olhar, espera-se traduzir em linguagem mais acessível esse debate acadêmico, pondo ao alcance das pessoas que vão atuar diretamente nesta Campanha da Fraternidade mais um instrumento para compreender sistematicamente o fenômeno da violência no Brasil.
Na percepção pouco orgânica da linguagem cotidiana, a violência aparece de forma fragmentária. Raramente são percebidos os padrões e os interesses subjacentes aos numerosos fatos violentos. Dessa forma, costuma-se ignorar que a violência atinge primeiro e mais fortemente os mais jovens, as mulheres, os negros e outros segmentos sociais, principalmente aqueles mais pobres e desfavorecidos.
Talvez, no cotidiano, a percepção fragmentada possa resultar da superficialidade, da pressa ou da pouca especialização da análise. Contudo, essa incompetência para construir sínteses pode ser uma das motivações para a proliferação do discurso do ódio e da intolerância que vem florescendo, sobretudo, nas redes sociais. No desejo de combater a violência, produz-se mais violência.
Além disso, tem prevalecido – sobretudo na forma como os meios de comunicação de massa apresentam o tema – essa mesma tendência de considerar a violência apenas de maneira episódica. É como se os atos violentos dependessem apenas da maldade de quem os pratica. Dessa forma, reduz-se a violência a um problema moral e se perde de vista o caráter eminentemente político da violência.
Para confrontar tais reducionismos, esse texto parte do pressuposto de que não se pode superar a violência a menos que a questão seja enfrentada por políticas públicas democraticamente discutidas e implementadas com vistas à garantia e ampliação dos direitos dos cidadãos. Entende-se que violência é um problema de política, mais do que de polícia. Efetivamente, a polícia é um importante agente da segurança pública, mas de forma alguma pode ser o único.
Isso implica contrapor-se frontalmente à ideia da segurança que aposta exclusivamente no endurecimento das penas; no uso da força policial como medida de controle; no fortalecimento do mercado de segurança privada ou em outras medidas que esperam resolver o problema da violência restringindo a liberdade e cerceando os direitos do cidadão.
A sociedade amedrontada
Apesar da dificuldade de dimensionar o problema, em razão da fragilidade dos dados disponíveis, há consenso ao afirmar-se que, nas últimas décadas, a situação da violência no Brasil se agravou. Se há algum tempo essa era uma vivência mais frequente nos grandes centros urbanos, nas últimas décadas também nas cidades médias e até mesmo nas pequenas cidades vêm se disseminando episódios de violência.
Não é um fato restrito a uma ou outra região: trata-se de um fenômeno que se alastrou por todo o país, embora persistam e ainda resistam lugares onde viceja a vida pacífica.
Têm se multiplicado os casos de violência direta, nos quais um ou mais agressores se servem da força contra uma (ou mais de uma) vítima. No entanto, além dessa violência episódica ou pontual, também estão crescendo formas de violência mais organizadas, em que grupos de pessoas se estruturam para praticar crimes.
A constante incidência de casos de violência direta – tanto aquela eventual como a ação do crime organizado – amendronta, passando a interferir e, por vezes, a ditar mudanças na condução das rotinas mais triviais.
A violência vai ganhando certa centralidade na medida em que começa a fazer parte do cotidiano. Quando, sentindo sua integridade pessoal ou patrimonial ameaçadas, o cidadão passa a incluir hábitos de segurança como preocupação explícita, significa que – mesmo para negá-la ou dela defender-se – a violência já passou a ditar suas atitudes.
A necessidade de precaver-se contra a presença do outro percebida como ameaçadora é sintoma de um sentimento de medo e de insegurança que tem um alcance mais amplo: a violência começa a se tornar o fio condutor da forma como se realiza a sociabilidade, isto é, a forma como uma pessoa interage com as demais em um certo grupo social.
O tema da segurança já se tornou um dos principais problemas brasileiros e tem inspirado a proposição de inúmeras formas de política pública – a maioria delas voltadas à repressão, ao aumento do contingente policial e carcerário, ao recrudescimento legal e penal. A segurança hoje faz parte da agenda de muitos cidadãos e domina boa parte das notícias diárias nos meios de comunicação.
A ilusão vendida pela indústria da segurança privada
Curiosamente, quanto mais o tema frequenta o centro das atenções, tanto mais cresce uma sensação difusa de desproteção e de impotência. Para fazer frente a tal sentimento, tem sido comum a proposição de medidas que, ao invés de representar uma solução, se tornam, elas mesmas, parte do problema. É exemplo disso a formação de uma “indústria” da segurança privada, que ocorreu nos anos 1990, quando se multiplicaram os serviços privados de proteção e se ampliou o acesso a equipamentos de vigilância, criando uma espécie de mercado da segurança.
Essas medidas privatistas de proteção se tornaram atrativas em face da sensação difundida entre os cidadãos de que o Estado não conseguiu fazer frente à criminalidade. Contudo, paradoxalmente, as respostas individualistas reforçam ainda mais a sensação de insegurança. Trancafiando-se atrás de barreiras físicas, consegue-se algum grau de proteção, mas, ao fazê-lo, o cidadão se isola. Não é apenas o inimigo potencial que fica à distância; também os amigos são repelidos e os laços sociais se fragilizam.
Dessa forma, é muito fácil confundir o “outro” com o inimigo. Qualquer pessoa que pense diferente ou adote comportamentos diversos é tratado como uma ameaça à sensação de segurança individual.
A segurança produzida pela proliferação de dispositivos de vigilância resulta, no máximo, em uma percepção subjetiva de conforto, mas não resolve as condições objetivas geradoras da violência. O temor de que as rotinas cotidianas venham a ser interrompidas por algum evento ou agente alheio à vontade do sujeito teima em alimentar o sentimento de vulnerabilidade e desproteção.
Parece inevitável constatar que o problema objetivo da insegurança não se resolve apenas com o uso de equipamentos e de tecnologia. Tais ferramentas podem contribuir apenas marginalmente. Trata-se de uma questão a ser enfrentada coletivamente e, como tal, deve ser sanada politicamente. A política pode ser entendida como uma prática de acordos que, aceitos pelo conjunto da sociedade, permite às pessoas viverem pacificamente em um mesmo espaço. Nesse sentido, não há possibilidade de se viver em paz fora da política.
A tentação das soluções fáceis
Se as medidas privatistas são apenas aparentemente capazes de oferecer soluções para o problema da violência, também está claro que não é qualquer medida coletiva (e mesmo pública) que pode enfrentar a situação sem torná-la ainda pior. Nos últimos anos, vêm se multiplicando as abordagens simplistas e revanchistas que julgam que o problema da violência pode ser resolvido com o mero endurecimento das penas e o maior rigor da lei. Outros julgam que o aumento das vagas em presídios e o encarceramento amplo e irrestrito dos “criminosos” podem barrar o avanço dessa ameaça.
Esse tipo de proposta tem se convertido em tentativas, tão voluntaristas quanto criminosas, de organizar bandos que realizam a justiça com as próprias mãos, praticando chacinas. Proliferam também propostas como a de diminuição da idade para responsabilização penal, a apologia à tortura e a aplicação da pena capital para os que são flagrados cometendo delitos.
Casos dessa natureza abundam nas redes sociais e, muitas vezes, também a mídia oferece, com parcialidade, uma cobertura na qual, de forma contida e por vezes explícita, tais iniciativas são aplaudidas.
Para além do campo desse ativismo que se encontra ao alcance do cidadão comum, também no Congresso Nacional vêm ganhando fôlego propostas igualmente simplistas e, potencialmente, danosas. Destacam-se, entre vários, os projetos que pretendem aumentar a disponibilidade e o acesso às armas de fogo, ignorando os enormes avanços obtidos na redução da criminalidade, após entrar em vigor o Estatuto do Desarmamento.
Tramitam ainda outros projetos que defendem a redução da maioridade penal, confundindo Justiça com revanche da sociedade contra o criminoso, ao invés de se ocuparem da aplicação e do aprimoramento das medidas já previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Está claro que a violência não será combatida com medidas que ignorem a complexidade do problema. É preciso considerá-lo em sua abrangência, com a multiplicidade dos operadores que atuam na área. Sobretudo, é indispensável compreender que a violência não é um caso apenas reservado ao tratamento policial, mas é uma questão social que requer, para ser enfrentada, a atenção e a participação mais ampla possível de toda a sociedade. Os atores responsáveis pela segurança são muitos e devem estar comprometidos com a busca de soluções para os dilemas. Ao invés da tentativa de constituir uma espécie de reserva de domínio, como propõem os interesses corporativistas de alguns grupos ligados ao mercado da segurança, é fundamental que os órgãos e serviços do Estado estejam comprometidos com a garantia da segurança pública como um direito básico e indispensável ao exercício da cidadania.
Esse entendimento fundamenta a decisão de lançar um olhar, nesta Campanha da Fraternidade, também para os rumos e os impasses que, há décadas (mas particularmente nestes últimos anos), vêm dominando as políticas públicas de segurança. Os índices da violência no Brasil superam significativamente os números vistos em países que se encontram em guerra ou que são vítimas frequentes de atentados terroristas.
Os dados apresentados na Nota Técnica do Atlas da Violência, parceria do Ipea com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que 13% de todos os assassinatos ocorridos no Planeta foram cometidos no Brasil, embora aqui se concentrem apenas 3% da população mundial. Com 59.627 homicídios, o Brasil ocupa o topo do ranking. Além de ser esta uma tragédia social, está em andamento uma tragédia econômica, em razão dos efeitos que isso tem para o setor público, para as empresas e para as famílias.
Violência é caso de política (e não somente de polícia)
Na reflexão que aqui se propõe, a segurança pública é entendida como uma política pública cujo objetivo é garantir o funcionamento das instituições necessárias em uma sociedade democrática, com vistas à observância dos direitos e dos deveres dos cidadãos.
Assim, o objetivo das ações implementadas se desloca para o asseguramento e a ampliação de direitos, ao invés daquelas medidas que usualmente tentam resolver o problema restringindo- os.
Como a política afirmativa, a ação em favor da segurança requer a recuperação da consciência coletiva da integração social. É fundamental a democratização do processo de elaboração de políticas públicas de segurança, romper com a perspectiva autoritária, democratizar o aparelho estatal e garantir uma segurança cidadã.
Disso já se pode inferir que não é possível fazer política de segurança pública sem tratá-la em sua intrínseca conexão com as demais políticas públicas sociais, como a educação, a saúde, o esporte, a cultura, entre tantas outras associações possíveis. Sob tal perspectiva, resguardam-se, para além dos aspectos operacionais e táticos necessários a qualquer proposta de segurança pública, também as interfaces social e política.
Esse olhar torna inegociável o compromisso com o respeito aos direitos humanos. Em nenhuma circunstância, o enfrentamento da criminalidade pode representar a instituição da arbitrariedade em lugar da mais engajada observância da lei e do direito.
Raízes sociais e econômicas da violência
A visão que integra a segurança a todas as outras esferas da vida em sociedade contraria as noções mais comuns que, normalmente, se constroem sobre a violência. No discurso corrente sobre a violência, predomina a tendência de esvaziar os atos violentos de suas raízes sociais e econômicas. É como se uma pessoa fosse capaz de agir com violência simplesmente por ser má e se a questão fosse redutível a uma suposta maldade do indivíduo. Com tal perspectiva, corre-se o risco de não se enxergar o contexto social em que a violência é praticada. O contexto não justifica e nem exime de responsabilidade quem agiu com violência; mas sem conhecer tal contexto não é possível compreender a situação em que a violência foi gerada.
Essa perspectiva tenta visualizar o caráter estrutural da violência. O olhar que se lança sobre o contexto evita a proposição de políticas que, atentas somente ao caso particular, não o projetam sobre o horizonte mais amplo que dá sentido a sua ocorrência e justificam seu combate.
Caberá, ainda, às páginas seguintes vislumbrar também a face cultural da violência, pela qual certas formas de agressão aos direitos de um indivíduo ou de um segmento social são naturalizadas e, nesse mesmo ato, deixam de ser nomeadas como violentas.
Por fim, é preciso considerar que a discussão sobre a violência agora, em 2018, ocorre ainda sob a grave herança com a qual o país convive depois de haver suportado as décadas da ditadura. As ações de segurança praticadas pelos órgãos por ela responsáveis ainda trazem a marca do autoritarismo daquele período.
O modelo de segurança pública que se conheceu, principalmente nas duas últimas décadas do século passado, pautado na resposta à criminalidade com o uso da força e o descaso pela lei e pelo direito, não atende às necessidades e exigências deste novo século. Na verdade, essa forma de reação à violência já era ineficaz e abusiva mesmo naquela época. Além disso, a criminalidade e a violência não diminuíram a despeito de tal uso, frequentemente abusivo, da força policial. Ao contrário, recrudesceram.
Vive-se, no Brasil contemporâneo, o dilema de se combater a insegurança e, ao mesmo tempo fortalecer os princípios democráticos, como se fossem reciprocamente excludentes. A segurança pública implica o combate à prática de crimes e a manutenção da ordem pública; mas, em maior medida, é também proteção ao cidadão e a seus direitos de participação e de decisão dos rumos tomados pelo país.
A experiência cotidiana da violência
Apesar dos avanços institucionais que vieram com a Constituição Federal de 1988, observa-se que as alterações nas estruturas de poder, além de não removerem os privilégios de elites e hierarquias sociais, foram insuficientes para alterar uma ordem social injusta.
No Brasil, o passado escravista, a dominação patrimonialista das elites, as estratégias de conciliação entre essas elites para sua perpetuação no poder se configuram em um modelo de sociedade autoritário e excludente. São elementos que, reunidos, se concretizam em inúmeras formas de dominação e de violência.
O regime democrático ainda não foi capaz de conter eficazmente a violência multifacetada e epidêmica que faz parte da história do país.
Existe aqui uma sociedade desigual que exibe uma democracia sem cidadania. O Brasil, apesar de ser a oitava maior economia mundial, é o décimo país mais desigual do mundo, segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano, de 2016, elaborado pela Organização das Nações Unidas. Parece inevitável presumir que os números alarmantes da violência no Brasil podem estar profundamente relacionados com a forma injusta como essa sociedade se estruturou.
De acordo com o Mapa da Violência, cinco pessoas foram assassinadas no Brasil com o uso de arma de fogo a cada hora durante o ano de 2016. Foram 123 pessoas mortas todos os dias, considerando-se apenas essa forma de homicídio.
Não se pode sequer dizer que aquele ano tenha sido diferenciado. Ao contrário, os números sugerem que este fenômeno se repete ano após ano. Em 2014, as mortes por arma de fogo ultrapassam 40 mil.
Diante disso, tem sido comum a constatação de que aqui, a cada ano, ocorrem mais mortes por armas de fogo do que em todas as chacinas e atentados ocorridos em todo o planeta. Somadas algumas das guerras mais recentes, verifica-se que elas deixaram menos mortos do que os homicídios praticados anualmente no Brasil.
Embora sejam preocupantemente reveladores, esses números consideram um só tipo de ação violenta. Ainda deveriam ser incluídos nesta lista os sequestros, os estupros, roubos, assaltos e tantas outras formas de violência.
Estas formas de ação violenta constituem a principal preocupação dos cidadãos brasileiros. No entanto, essa lista contempla apenas a chamada “violência direta”, entendendo-se, com essa expressão, os fatos violentos nos quais se podem identificar – ainda que apenas idealmente – agressor e vítima.
Esse tipo de agressão é mais facilmente identificável e é passível de ser quantificado e analisado pelos estudos estatísticos que diariamente ocupam os noticiários. Também é comum que, ao proporem ações contra a violência, os distintos níveis de governo se limitem à adoção de medidas para combate e punição aos praticantes desse tipo de agressão.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a violência se caracteriza pelo uso intencional da força contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo de pessoas, de modo a resultar em dano físico, sexual, psicológico ou morte.
Não é preciso, contudo, que se efetive o uso da força física para que um ato se constitua como violento. A ameaça, a omissão, o uso de influências para produzir a outrem um dano ou para, de alguma maneira, coagi-lo já constituem, por si só, uma violência.
Disso se infere que também o exercício de um poder pode converter-se numa forma de violência quando usado, intencionalmente e de modo assimétrico, com vistas a gerar para outra pessoa uma privação. Nem sempre os atos violentos são explícitos. Atos extremamente danosos podem ser feitos de forma sutil.
Em sendo verdadeira a constatação de que, ao longo das últimas décadas, vêm se acelerando as transformações no modo como se dão as interações na sociedade, parece razoável admitir que também as formas de se fazer violência vêm ganhando novas formas de efetivação. As tecnologias digitais, por exemplo, potencializaram, nos últimos anos, a violência gerada por preconceitos de toda sorte: diferenças de classe, raça, gênero, concepções políticas e religiosas têm se cristalizado em variadas expressões de ódio e de intolerância.
Em algumas situações também surpreende a banalidade dos motivos que têm levado à explosão de reações violentas. A coexistência pacífica se mostra frágil e vulnerável. Nesse movimento de transformação social, tem emergido uma sociabilidade que vai se concretizando em ações cotidianas pouco amigáveis e a cordialidade é suplantada pela intolerância. O compartilhamento negociado de espaços e recursos parece, então, correr o risco de ser substituído pela imposição autoritária de pontos de vista e a subjugação do outro pelo uso da força, seja ela simbólica ou, em certos casos, até mesmo física.
A conduta violenta é capaz de insinuar-se até nas tentativas de combatê-la. Mesmo como formas de resistência à violência, valores e condutas, nascidos da reação impulsiva e pouco crítica, acabam sendo pautados pela própria violência a que o sujeito deseja se contrapor. Em outras palavras, por vezes, pela falta de reflexão, para combater a violência escolhem-se condutas violentas.
A concepção punitiva da justiça feita pelas próprias mãos, o incremento dos equipamentos de segurança pela população em busca de autoproteção, a exigência pouco racional de maior rigor das leis e de aumento dos presídios são exemplos de como o discurso contra a violência às vezes se converte em práticas que podem vir a aumentar ainda mais a sociabilidade violenta. Isso ocorre quando se pretende fazer o combate da violência pelo recurso a instrumentos potencialmente geradores de mais violência.
Na contramão disso, é possível constatar que, apesar da extenuante rotina da vida nas grandes cidades, persistem situações em que as pessoas ainda conseguem conviver pacificamente. Da mesma forma que soa inadmissível aceitar o mito de que o Brasil é um oásis pacífico, tampouco seria razoável ignorar que ainda resistem, fortemente enraizadas em práticas cotidianas, experiências pautadas pela solidariedade e pela coexistência pacífica. Mesmo sitiadas pela sociabilidade violenta, subsistem inúmeras formas de convivência pautadas pelo respeito à diferença, pela troca de saberes, pela gentileza e pelo serviço mútuo.
Por vezes, nos mesmos espaços encontram-se a convivência pacífica e a sociabilidade violenta. A experiência do viver em paz fundamenta a autoimagem do povo que se concebe como pacífico, ordeiro e inimigo da violência. Contudo, essa ideia não apaga as contradições. Encontram-se enraizadas na sociedade brasileira as condutas pacíficas tanto quanto a promoção da violência. Essa contradição existe no espaço público, mas também no ambiente privado; nos lares e nas empresas; nas interações diretas ou naquelas mediadas pela tecnologia.
Alguns fatores são preponderantes para evitar que um território seja tomado pela violência. Primeiramente, é indispensável contar com a presença do poder público exercendo seu papel na garantia dos direitos dos cidadãos. É notável como, no Brasil, o Estado se faz presente para garantir o patrimônio das elites, mas não se mostra nas periferias das grandes cidades. Longe das áreas “nobres”, faltam políticas de proteção e zonas inteiras se tornam territórios entregues às milícias, ao tráfico de drogas e armas ou a outros grupos armados.
Se o Estado se omite e inexistem políticas públicas que garantam os direitos dos cidadãos, a existência de segurança passa a depender precariamente do dinheiro privado. Cria-se uma cultura de privilégios, na qual só tem direitos garantidos quem pode pagar por eles. Determinadas pessoas tiram benefício privado a partir de recursos que deveriam ser, por definição, públicos.
Esse modo de funcionamento privatista das instituições da sociedade torna-se um forte gerador de diversas formas de violência, já que, sem políticas públicas universais, o direito se converte em privilégio para poucos.
A privatização do serviço público de segurança ocorre quando o Estado produz políticas públicas de alcance seletivo. Nesse cenário, cria-se um arremedo de Justiça e os serviços de segurança têm alguma efetividade apenas para determinados segmentos sociais.
No aparato judicial do país, tem tratamento diferenciado quem pode assumir seu custo. Pagar um “bom” advogado pode ser a diferença entre alcançar ou não a Justiça.
Da mesma forma se multiplicam as narrativas – e às vezes a declaração aberta de agentes de polícia – que mostram a diferenciação de tratamento policial nos bairros pobres e naqueles ricos ou de classe média. Os aspectos étnico e de classe fazem, então, a diferença entre proteção e exposição à violência.
O próprio uso do aparato de Estado e o exercício da política são geradores de violência quando neles, ao invés de se pautarem pela equidade e pela observância universal das leis consensualmente estabelecidas, as relações se pautam pela dissimetria de poder.
(Os grifos são nossos.)
Créditos
A análise publicada em Contextus não representa a opinião da PUC Minas ou da Arquidiocese de Belo Horizonte. Sua publicação, sob responsabilidade exclusiva do Nesp, obedece ao propósito de estimular a reflexão sobre a conjuntura política e outros aspectos de interesse social.
Núcleo de Estudos Sociopolíticos
Avenida Dom José Gaspar, 500 – Prédio 04 – Sala 205
30.535-901 – Belo Horizonte – MG
Site: http://www.nesp.pucminas.br | E-mail: nesp@pucminas.br | Telefone: 3319-4978
Grupo Gestor
Representantes da PUC:
Adriana Maria Brandão Penzim
Claudemir Francisco Alves
Robson Sávio Reis Souza (Coord.)
Representantes da Arquidiocese de Belo Horizonte:
Frederico Santana Rick – VEASP
José Zanetti Gonçalves – RENSE
Conselho Editorial
Adriana Maria Brandão Penzim
Claudemir Francisco Alves
Robson Sávio Reis Souza
Redação final
Claudemir Francisco Alves
Fonte: